ANOTAÇÕES DO EXORCISTA DESEMPREGADO
António Maria Lisboa
saboreio o doce verso da terra em cada circuito oval circunscrito, no álamo em que sobeja a dor póstuma dos gestos. saboreio o que de sabor fede – a injusta verdade dos gomos insubmissos – arranco o eco aprisionado e do soluço de cristal a voz retrai para que no êxtase sincrónico dual, um outro ser puro e imaterial surja.
perante a abscôndita sinceridade carbonizada rompi com o diabo das miudezas vis e espumei clorofórmio ensandecendo. vivo a loucura febril das tardes de escrutínio – as sarças ardem solenemente. o vidro ameaça a veia cardeal e cabeças negam propósitos. deste terreno apenas se herda o húmus e a névoa inevitável do supérfluo.
este novo antro
este apetite elíptico
ou estrada relançada
ou abismo ressentido
inspira expira e morre
ciclicamente – recicla
a terapia da fala
mergulho no mar marmóreo onde ressurge a fisionomia. o lodo verde apodera-se da pele. bebo as cores dos olhos que fugidios embatem nos meus. espremo um limão verde na fechadura do acaso. como expressar o desprezo encurralado em cada cópula? lento visco a escorrer entre rostos que num tempo a tempo tocam-se solitários – a espera reanima o falso vagar dos corpos.
teias de seda cegam e o murmúrio aquoso silencia os gestos. os ecos afunilam-se. recebi notícias da outra margem pelo mensageiro negro e agora despeço-me atirando asfódelos até ajaezar o ínvio nado-morto... adeus.
este novo ser
esta estátua de lama viva
ou agitação obscura
ou decalque mordido
inspira expira e exibe-se
doente – vomita o bolor
que o persegue à noite
irrompem apotegmas do algodão translúcido que limpa graciosamente o coração de vidro. preparo a mortalha para o almoço. para a entrada indigestas reflexões metafísicas abrem o apetite. o pulso frágil repousa na mesa onde o pão desabrocha para as bocas intimamente rosadas. súbita fome verbal – mastiga-se o pão, mastiga-se a opinião – à mesa curam-se feridas corrigem-se posturas num vislumbre ósseo. as frases desirmanadas do suco medular são a confissão nas entrelinhas e os choros em argola, encadeados nas lacunas do diálogo arquitectado sílaba a sílaba, recriam uma memória colectiva.
não repouso nessa neblina acoruchada. consumo poeiras obscuras dum silêncio reduzido à orla imediata e, se da mão envelhecida se celebrar a deiscência dos esporos com o fúnebre desalento da memória alegre das coisas, sairei ileso ao desabar o solo carcomido. abro os olhos e entro na tertúlia imagística da sala vazia. os naipes arrevessados ao chão depois da notícia, o cego jejum da solicitude mesquinha – longe, neste lugar, procuro repouso.
uma vez mais
a formiga verteu
ácido sobre as pétalas
manchando com luz negra
tudo à sua volta
a pronúncia secular da cinza retrai o que próximo se acende quando denotada a alígera fecundidade da boca que, morta de desespero, cala-se enclausurando segredos dum calcário ardente.
uma vez mais
outra pomba morreu
em pleno voo
quando um poeta cardíaco
selou o poema caindo sobre ele
não digo do palácio de cristal renegado no sonho enquanto sopro diário. não digo dos fungos que sós assombram qualquer regresso nos pedaços de jornais velhos. digo dos dedos arqueados, digo do vibrante arco metálico que regressa do exílio.

tento emitir a argola envolvente perante a prontidão canora do vampiro enraizado no sangue que teme a volúpia exasperante das cartas a escrever. reconheço a lua na noite aquática, rezo ajoelhado perante a ulva macia de prata e sigo com o olhar um peixe que foge a trote; os dedos negros de paixão, unidos em oração, pedindo a anulação de imagens no espelho universal. enganado pela viuvez da imagem, assisto cabisbaixo ao simulacro da vulva póstuma.
neste antro nocturno, aproxima-se de mim o tosco anão verde que tosse agoniado por ter folhas secas caídas do castanheiro senil entranhadas nas cavidades respiratórias, e, jocoso e sério, segreda-me ao ouvido: «engole o botão de rosa».
a parábola repousa
na corola da flor
que madruga
adoçando o ódio
não mais do que isto: a zaragatoa aperta, o inóspito campo é povoado por flores-de-lis, a ronda precoce entoa os caprichos e a madeixa de cabelo é moeda entre inimigos. não mais do que isto. rodo a maçaneta e já não nego o tesouro mas a sua forma. ninguém dissimula a logística entranhada e os glóbulos jamais apagarão as éclogas consolidadas no ínfimo recolher de espasmos coniventes até à estância libidinosa que o coração engrandecido pressente a todo o momento. que memória devo guardar dos dias sem semântica?
a parábola como punhal
exposto no regaço inquieto
– crianças adormecem
no quarto que fumega
a relíquia sob a plena colina, o áspero colar indemne no colo, o labor floral nos braços... remexendo os sais me devolvo. o desenlace do argumento forjado a um passo do fulgurado abraço entre iluminados e dançando à chuva o sabre do inócuo ressentir golpeia o grito náutico – eis o espaço mínimo entre flocos para blocos que contrariam os focos. daquela tarde lembro-me da caruma morena do verão, do cheiro a hortelã que benze os lábios. nesta tarde resta-me a sede... o unicórnio abandonou o vale dos espelhos e, agora, corre a morte no rio.
de novo a corda ensebada, o visco arrasta-se nas artérias do afecto. a distância contida no aperto propicia a revolta da saliva metafórica que faz com que as bocas soletrem mágoas e esqueçam o beijo, magno artifício do prazer. abro a janela e emerge uma linha curva no repentino solo. escavo derrapando no escárnio e vislumbro a raiz no brusco clarão que incide na aguarela.
voo picado
sono moroso – drena-se
o paulatino veneno
os lábios não estão completos ao dizerem a palavra, mas o simples ruir das margens completam o sentido infectado do corpo.
três versos três facas
ainda não morreste? – alguém
será teu provisório inferno
Cascata. Porque as mães sabem tudo. Aguardam
sentadas o vinho dos mortos.”
Fernando Grade
“Mãe: quem me dera dormir tanto que voltasse a nascer...”
Jorge Fragoso
cabeças vazias clamam o nihil
perdidas cabeças na pele
farrapo de células
os apelidos da infância humilham
aqueles que deram braçadas
no mar de saturno
facas estelares
atravessam os pulmões
que beberam o ar e a geografia abissal
a repetir uma e outra vez nos pesadelos
inicia-se a combustão
os átomos dançam em torno do fogo
entra e sai da câmara
o que és?
soletra «frio»
o sono longe e certa a faca do dia
sintoniza a cara de luz na avalanche mental
ouve o grito da imagem
esfaqueia a sombra do que se diz frágil
mas intocável
esfregam-se mãos na parede pintada
com o sangue dos vermes intermitentes
desenhos a lápis fino nos olhos apontados ao sol
a sujidade do mundo é vertiginosa
a beleza é subjugada pela raiva
ó mundo dos acidentes hormonais
bombardeado com motorizadas cadentes
vindas da cordilheira de meteoros
apartai de mim o jarro de porcelana que parti
e colei peça a peça com a cola dos lábios que trinquei
¿como esquecer as roupas sujas
de lama e verdume de giestas?
o fim em cada luar
areia mastigada com desdém e antipatia egocêntrica
[o mundo selvagem]
cai a música
o açúcar da doença rapta o sorriso hipócrita
entre pensamentos planetários
os dedos já navalhas ferem as faces do rosto
mãe
a orquídea está cansada do orgulho
que lhe corre na seiva
mãe
expurga-me o veneno
¿como esquecer o coração da viagem?
e se fosse possível prever
a órbita
das auréolas voadoras?
e se depositássemos
as veias
no antro estomacal do mundo?
e se largássemos
as mágoas
que causam anemia?
e se já não houvessem
os espelhos
da alegoria social?
e se prevalecesse a intercepção desmesurada
dos olhos onzeneiros
que sedentos esperam o desabamento do tecto?
e se a negra cor do pano
alimentada de medo
deixasse de ser a cor do sono comum?
mãe
vi Cassandra desolada
subindo a rua com a túnica rasgada
os pulsos rodando brancos
os dedos tacteando francos
o ar que já não respira
os olhos repetindo o poço de sangue que vira
o rosto esculpido pelo ódio
dedicado à besta que subiu ao pódio
– Cassandra arrasta seus pés
seguindo o trilho do sol pela última vez
vi Orestes procurando a víbora viperina
e nem Pílades lhe esgueira a sina
nem Ifigénia o reconhece agora
cada facada em sua mãe é hora
que passa recordando seu pai
com estima cega – o coração trai
o materno colo que de carne o adornou –
por Hermíone Orestes Pirro matou
e Cassandra soltou um sorriso maquiavélico
– Orestes carrega nas veias o amor bélico
o andarilho humanóide
festeja ensonado
a sumarenta denúncia
chove
e há quem se molhe por dentro
parafusos de cobre enferrujam na carne mole
do sentimento que veste os órgãos
suados de existência
chuva contrária
chove
e há quem arda por fora
mãe
o bicho-da-seda
encontra-se rodeado de agulhas
contorce-se de dores
quer sair e sairá
mãe
tenho dores por todo o corpo
monto o palco
forro o cenário com a pele
o mundo entra-me pelos poros
declaro único o lugar
[o cérebro da cidade dos homens]
único é o primeiríssimo lugar
– com todas as ossadas encaixadas –
no qual assisto à dança dos mártires do novo tempo
estar aqui
mergulhado no muco
lendo o vermelho da imagem
o sangue
sempre o sangue
digo sangue escorre sangue
e ele dentro
anima o corpo explodindo nas veias
o sangue
estar aqui
à espera que as vozes presas na minha cabeça
se soltem desobrigadas
para que possa escutar a mirabolante fábula
e desenhar os esquemas nas paredes amarelecidas
pelo líquido amniótico
dentro quente me sinto
as duas metades roçam-se com desejo
dentro possesso articulo os selos ósseos da memória
fora arde-me o umbigo
a musa esbofeteia o ar acima da cabeça
fora solta-se-me o cavalo de bronze
que amarga a língua presa ao meio
quero adormecer de novo no teu ventre
TOOLBOX
eu e outrém frente a frente
paralelos ao vazio quedamos atentos
SANGUE
ângulos advertem perigos geométricos
vermelho o sangue mata
CORAÇÃO
cofre de mágoas guardado por espinhos
cofre de pólen guardado por ossos
BOCA
a caverna húmida ecoa – a boca – adúltera
encarcera o segredo libertando-o
MÃOS
iluminam o que tocam
movidas por escura razão
– soldados nus dançam atrevidos
PELE
movimento limitado ao círculo delineado
a tarde de horas vestida – a sombra mancha
a pele
CABELO
lianas descem a colina sinuosa
almejam envolver todo o corpo
para que do casulo um novo ser nasça
OLHOS
janelas móveis para o mundo
espelhos irredutíveis da realidade mutável
esferas cristalinas incrustadas no altar do corpo
OLFACTO
o aroma chama – tão secreto seduzir – à porta
do palácio polpudo é nosso dever sucumbir
aos desígnios egrégios de tão humilde condição
OSSOS
articulam-se comedidos dobrando a carne a pele
jamais roçam o perímetro frágil do afecto
– o esqueleto insinua bifurcações da vacuidade
ÓRGÃOS GENITAIS
Profusamente Ébrio Navega Injecta Sémen
Vulva Aberta Gritando Inspira Natividade Abjecta
OUVIDO
auscultando o movimento intrínseco ao vulto de terra
no laboratório isolado de brancas paredes mortas
o ouvido olvida a pulsação primordial que une
as vísceras do ser às entranhas da crosta terrestre
ROSTO
ninguém adivinha o rosto com o olhar
por mais profundo que seja
ninguém o desenha de modo fidedigno
com seu lápis mente ou deslumbramento
sem que lhe imponha traços de outros rostos
ninguém conhece o verdadeiro rosto
e se alguém julgar conhecê-lo torna-se ninguém
FLORILÉGIO DO SILÊNCIO OBLÍQUO
acelero a cor do pinho na alvorada que se incendeia
escrevo como obsessão última
arauto vibro
penso e viro o leme no que é pleno
mas inconcebível – a agulha sobrevoa
a pele – defendo a farsa das terminações nervosas
como preâmbulo declamado pelo gago a apedrejar
enxergo a linfa no gume
procurando o gato persa fictício
e sacudindo a poeira de alucinações
adopto o léxico do corvo
sei que criaram a verdade a partir da rosa murcha
e agora as bocas esfomeadas comungam-na
em círculo – a lampreia não sabe o nome de cada um
dos seus filhos – não me cabe corrigir o silêncio
sabendo que o peixe foi criado para o dislate
e que o agrilhoado decesso singra
no encontro dissonante em que visto
um rosto de prata
festejo a solidão comungando rochas brancas
e amêndoas amargas
enquanto a mulher de água doce caminha sobre
o mar
observo o meu corpo aliás estudo o corpo
em uníssono – será o corpo a herança a profanar
no pálido recinto mortuário? – o corpo fez-se a partir
tão triste a água que sobra
quando a força do beijo ósseo se torna agreste
quem morre numa boca em corpo se transforma
vive-se mastigando o pão da culpa vive-se
da lenta morte que aglutina grãos de pólen sortidos
a gota de mel alastra-se pesarosa no copo de cristal
e só é mancha quando esfregada na pele
daquele que a repudia e enxovalha
quando decalca o pudor salino que bebeu
dos seios marmóreos das estátuas
há muito esquecidas na ilha longínqua
que se tornou ferida negra do oceano imenso
CIO
amancebam-se os bígamos pois é etéreo
o caminho da paixão roxa – irá o corpo enlanguescer
eis a dúvida da nova praia – a cama enluarada
é o leito fúnebre de Platão
o maganão de olhos esverdeados solta a fúria
na espiral dum beijo
lava-se no lago sagrado agitando as águas
depois do banho reduz-se a um cadáver
manchado de néon que conserva no peito
um ninho de aves de sangue frio
o edifício de açúcar erigido em tempos
entre as árvores de betão foi demolido
e resta agora o regozijo pesaroso
aquando a despedida das aves migratórias – o cadáver
e líquen – adeus aves perfumadas
“Pero tú vendrás
con la lengua quemada por la lluvia de sal.”
Federico García Lorca
vislumbro o suicídio ao longo das tuas pernas
de te tocar falhei ao fingir falecer
a silhueta púbere sobrevoa
o que me ataca por detrás
espera
quero que saibas que não perco o rasto
do que voa rente ao chão
vem pousar nesta noite escura
amanhã virá a mãe do que se move
liberta-te desta casa
os olhos agarram-se ao chão
liberta-me também
pois quero acordar no aquário teu
acalma-te
quebra a cabeça de água
o outro mundo é apenas
um outro dia que não chega a raiar
¿quantas vezes amarrados
à cama resguardada do frio criador?
não consigo ver nada lá fora
a erguer-se calvo e serenamente cruel
neste amontoado de lençóis impregnados de saliva
éramos pequenos deuses rasgados devagar
quando selvagens na cama
para terminarmos mortos no chão
a síndrome das algemas de vidro ataca de novo
tenho-te nas veias
num espaço de luz penetras em concentração
entras radiante
a vida como rocha
o amor tão devasso
e um fio de chuva corre nas palavras
perdi-me ao perder-te em mim
nas minhas coisas poucas
amarguradas de forma tal
que o singelo movimento é
a propaganda horrenda na rua
o lado agoirento emaranha as atrocidades
duas pombas vadias
apaziguadas pela enfadonha submissão às regras:
sem lábios carnudos para beijar
sem poder de escolha entre aberrações
de algo que ainda não se conhece
distanciados por um interstício
dois corpos suados – a nossa juventude estreitava-se
e eu contemplava a sorumbática descida
do milhafre
ameaçando a sombra do barro feito homem
o que de mim recolho pelo olhar retido
é morgue absorta do abismo detido
persistíamos na súplica de chegar a qualquer lado
ajoelhámo-nos
gritámos
dissemos que um dia mataríamos a lua
e afundávamo-nos cada vez mais
na areia movediça
aflige-me o cansaço de cansaço
a maçã acidula torna-se azeda
como denúncia poética
dos que foram condenados à vida
fim em cada qual
exortação insatisfeita do animal
foste-te embora
sei que levaste lágrimas escondidas
nos punhos cerrados
aqui comigo ninguém
dispo o nada visto o nada
troco o nada acontecido
pelo nada sentido
mergulho no rio – uma urna
flutua ao meu lado
irregular esta navalha do céu oceânico
ataca-me de novo um mar de vidro
um anjo atravessa a nado as minhas costas
a navalha foi cravada fundo
FALSO FOGO
chego tarde e trago falso fogo nos lábios
falaram-me da maçã sem corpo
e inocentemente esperei a mãe dos ovários de ouro
para lhe dizer que já não é bem-vinda neste mundo
refugio-me no umbigo da laranja que pousa
para a luz residual
dragões de fogo bailam silenciosos
despertando subtilmente a dor – parte dum corpo
a partir – dor que se arrasta dormente na carne
ainda viva
o silêncio que a doa é ruído
e o ser a roer-se por dentro chega a temer o pior
desejando incrédulo o esvaziado sentir
da dor – parte dum corpo a partir
FILHOS DA AVE TRAÍDA
não me lembro mas é como se me lembrasse
um enorme chorão é o marco do subterfúgio lilás
sento-me na escadaria e estalo os ossos dos dedos
a anotar ao longo da insónia numa pauta desenhada
de terra e há um volver astuto que resvala em toda
a armação orgânica – ninguém cala a cálida brisa
que ostenta a crise absurda das moléculas
a sombra áspera é território a perder de vista
onde se travam as mais ridículas batalhas
como artifício de decoro a coroar o corpo
nascido da furna humidamente quente
não me lembro mas é como se me lembrasse
junto a mim a segurança soturna de goivos
encurralados na jarra de vidro baço
os dias amassados no tabuleiro para fabrico de pão
que provoca a amnésia parcial garantindo
a sobrevivência num calculado mundo insalubre
¿terão frio as estátuas erguidas pelos filhos
da ave traída que mastigam a neve e o gelo
quando têm sede? – nenhuma sede é saciada
ter-se sede de vida é ter-se sede de morte – e sempre
que a fome ataca rasgam a carne uns aos outros
carne de cor roubada a uma outra carne
¿de que nos queixamos afinal?
palmilhando a estrada do silêncio
a voz sobrevive atravessando a nebulosa – ouve-se
um oco eco
o comedido fonema – neste mundo
tudo causa gangrena e há quem dê por dar
o poema
BOCA DE ONTEM e no princípio era o nada que ainda hoje é
de tanto dividir o dia chego a ver mutilado o sonho
sorvo a luz do estranho astro que povoa sonâmbulo
o espaço que por não ser meu pertence-me
e as pegadas lembram-me coalhos de lágrimas
soros aflitos sobre as palavras precipitadas
espelho:
olhos olham o olhar de outros olhos
eu feito tu sou eu sem o ser
os ossos rasgam a seda dos dias
e
a boca de ontem exala um olor a morte
il pleut
le sang pleure
le plasma diminue
¿qui nous regarde?
les étrangers de la nuit roulent
la règle est simple:
ne jamais se rendre à l’espace pétrifiant
à la gare mes amis
à la gare
on mange les ossements des autres
on ferme les yeux en parlant
la folie est morte à la maison
les enfants sont pâles
ils ne connaissent pas la vraie chanson de ce monde
ni le mot fatal
à la gare mes amis
à la gare
on part à la recherche du foie noirci de la lune
ces fleurs découvertes à la lumière étranglée
elles ne me disent rien
ces feuilles sèches de l’arbre brûlé
ils ne me disent rien
ces appendices démasqués des multiples insectes
morts par le nectar d’or
on n’aperçoit aucun vêtement de la mort
qui danse autour de nous
mais tout est dit:
il n’y a rien à dire
l´eau mortelle sur ce plastique ridicule
¿où être pour réussir à attraper l’étoile obscure?
l’illusion à connaître sans effort
le délicieux pain corrompu par syllabes
de l’heureuse marionnette dansante
à la gare mes amis
à la gare
¿ne faut-il pas nous sauver?
les fluides d’un cristal fragile qui souffre
dans toute la constellation
descendent en à notre rêve
le plus grand rêve
écho de la vie derrière des conflits fugaces
qui troublent la dernière phrase
avant la décadence organique du corps
la soirée jaunie ressuscitera le père de la folie
à l'égard du séjour que brille euphémiquement
les images brûlent en passant
des peaux ressemblent à l´argile frétillante
desséchée sur le métal malade
à la gare mes amis
à la gare
protégez vos têtes
voici le poison atrocement inéluctable
l’image définitivement déflorée
avec la poussière de chaque jour seul
sur la nuit nue métalliquement ouverte
en pleurant la ville s’asphyxie
l’aigre air ressemble à l’antique refoulement
fermé dans le crâne solide par l’orgueil
¿qu’est-ce qu’on fait ici?
à la gare mes amis
à la gare
allons-y allons-y
A CIDADE DO ÓDIO
tubarão entre tubarões no útero da mãe
irmão entre irmãos
o canibalismo uterino é a prova
o vencedor mergulhará para fora
e tudo se desenrola sem ódio explícito
o ódio jamais habitou o útero
habita a cidade
autêntico baile de gadanhas
o turbilhão em cada um e na multidão
ninguém sai ileso deste chão estrepitoso
cá fora perde-se o que veio de dentro
outrora imaculado
o silêncio da legítima ignorância
uma outra morte mas que nada decepa
pouco se sabe sobre o que realmente nos magoa
“A process in the eye forwarns
The bones of blindness; and the womb
Drives in a death as life leaks out.”
Dylan Thomas
a árvore falou com suas raízes de cheiro
e no ano seguinte secou – eu sou onde estou
nada a antever por agora
um vento novo vagueia
de hora em hora
as mãos enterram-se no cabelo macio
adormecem calejadas resguardadas
do frio
a noite é longa – viajo deitado perpassando
o paralelepípedo enevoado – não durmo
a noite é labareda de gelo
ardo acumulando no interior o vurmo
a água morta cinge o peixe morto
por linhas direitas o desígnio torto
1 DE NOVEMBRO
ergue-se uma nova multidão no cemitério amplo
a terra cheia de rostos – que rosto limpo paira sobre
a mais pequena flor orvalha sem o sorriso
dos que já viveram – o gelo atacou – outrora houve
não era um coração era um búzio de carne
que quando soprado entoava a música
do fraco ouro que a geração dos assassinos
os sinos pararam de tocar – quem está vivo
é já morto se não ouvir o seu próprio coração
a terra sabe a amargura de corpos que deixaram
de respirar – a terra é sangue – as flores nascem
as árvores irrompem do solo crescem engrossam
pela força da terra que digere os corpos
¿quando descerá a palma dourada que concentra
toda a energia que outrora animou esses corpos
agora húmus?
à luz da lua fluorescente o cálice de prata
colocado no centro da mesa do jardim
arrecada gotas de chuva para que na nova manhã
dissolvam as lágrimas esféricas solidificadas
de espanto nos rostos cadavéricos
e eis que nasce o dia em que se celebram os mortos
o sol desponta imponente – abre-se a janela
para se ver a montanha a arfar com nova cor
hoje não se bebe o orvalho de todos os dias
hoje e só hoje bebe-se o cálice de lágrimas
ORQUESTRA SEM MAESTRO
os tambores apelam à secura flagrante do crepúsculo
a cítara hipnotiza renunciando ao verso que cheira
a terra molhada
guitarras eléctricas galgam a montanha
e a descer violinos choram irritando a pele
a harmónica hostiliza o espaço pisado cautelosamente
saxofones esfaqueiam na escuridão – cegos
vingam-se robustos
o metal refina o sangue extorquindo a ferrugem
por fim o descanso
o piano ensina a ordem de todas as coisas
e depois o isolamento parcial para auscultar
a música do corpo desapegado da fala
LÁGRIMAS DE SANGUE
transfiguro o rosto com lágrimas de sal tatuadas
na mão aperto com força o gargalo de vidro baço
um queixo de luz esvai-se acima
dum outro rosto reflectido
com lágrimas de sangue vivo a escorrer
pelas faces abaixo
suculentas borboletas planam no espaço livre
do sótão
ao canto um baú de castanho por abrir
desmaiado sob o olhar da roda secular
saio fechando a porta e sei que as borboletas
se despenharão inanimadas
transformando todo o espaço num cemitério
de pedaços de cartolina recortados
em forma de borboleta
e minúsculas peças de madeira
há uma continuidade entre o corpo animado de vida
e o vácuo doentio que nos transcende
tudo se reduz a um sopro limpo
uma aragem filosofal que transforma em vida
tudo o que toca
da realidade frugal uma outra realidade abscôndita
o caos recomeça no ponto cardeal minúsculo
da afinidade conjugal de todos os corpos
tornado carne focada de modo abstraído
o diafragma invisível trabalha
rodeado por músculos que formam o pericarpo
dum fruto que incha fuliginoso
a luz gera-se no interior
e é conduzida por um canal estreito
até ao ostíolo – porta selectiva – de lábios
mas que abrem diáfanos
deixando transparecer o sangue vivo em apoteose
quando algo emerge da paisagem externa
e navega subtilmente através do fruto
transformando-se em nova paisagem interior
outra luz
a terra dissipa o vapor enamorado
pela força dos astros montanhosos
a música das esferas anima esculturas vulcânicas
e a orquídea respira com dificuldade
tem sucessivos ataques de asma
perante plantas demoníacas e ervas guerreiras
que banidas do reino floral colorido
respiram arquejantes e dominadoras
as pétalas do lado negro
vivem manchadas pelo orvalho contrafeito
as pétalas do lado imaculado
vivem manchadas por lágrimas de sangue vivo
que escorrem lentamente para a terra
habitando-a definitivamente
o hálito da terra é acre
assim como o paladar do sangue na boca
que pulsa ainda vivo pelo remorso
“Estalaram os botões dos salgueiros.
dos anos alinhados pelo espaço húmido
que nos dilacera – boca do mundo – a nascente
de saliva
caldeia as enigmáticas esculturas aprisionadas
¿será o jardim a súmula da fantasia empoeirada?
o contrapeso das jornadas manchadas de sangue
e suor?
visão alucinante quando se espreita a primavera
estação na qual plantas desossadas florescem
rendidas ao bailado dos insectos que zoam em coro
e o jardim
é ele próprio um oceano
as ondas foram substituídas por corolas
que abrem sincronizadas durante o dia
uma tarde sob uma outra
os olhos comprometem a terra
cintilam tremores nas pétalas das açucenas
as peónias abafam a papoula solitária
mas eis que a hera rasteja cautelosamente
serpente vegetal enrolando-se nas peónias
sacudindo-as até cuspirem as ninfas envergonhadas
para o chão que se mancha dum pó dourado
nesta tarde as lágrimas têm cheiro
Apolo chora ainda
chora desprezando o atento girassol
que cresce opulento no solo empanturrado
de melancólicos desgostos e sussurra repetidamente
o nome duma ninfa da água
Apolo chora com um jacinto cor de sangue
a roçar-se-lhe no peito – as dedaleiras
dançam sarcásticas e acusam Zéfiro
uivando com suas inúmeras bocas
todas as flores têm tatuadas nas suas pétalas
um rosto divino ou humano
e cada uma tem o seu sangue em que o plasma
é composto pelas lágrimas derramadas de quem ficou
e viu partir quem amava
tudo é construído pela dor escorregadia
(o navio de cristal cavalga na alucinação
breve emaranhado de sombras indescritíveis)
denunciar o rebento que a todo o instante se altera
torna-se manobra da paixão quebradiça
a falecer nesta enseada doentia
e que
ao apagar-se na sombra da mulher que vestiu
as pétalas das flores murchas
o navio de cristal esquecido entre a relva embacia
esse mesmo navio que limpo
amplia a flor que repousa no chão
flor cruelmente decepada que ainda
não partiu deste mundo
quando o dia se reduz ao crepúsculo
o sol não é mais do que uma ciranda de brasa
que anuncia o fim de tudo
ENIGMA
saia o último clarão do vidro fusco para que vingue
a tarântula sensual morta no ventre da página
os cômoros são falsos assim como o olhar húmido
do estrangeiro em nossa casa de fluídos e cartilagens
de parte em parte a dívida pelo comum
não há palavra com o equânime valor do gesto
mas a semântica dos afectos não acorda os mortos
um mastro de cristal condena os espectros
ondulam anjos de sal na intempérie pardacenta
adoeço à chuva procurando o lírio
que outrora cresceu com o meu choro sofrido
entro no portal de vapor e de súbito
a opção como ameaça: o texto ou o fruto
o fruto do texto ou o texto do fruto
e depois o enigma: as sílabas dos frutos eleitos
pelos meatos – ainda não eclodiu o cisne das nuvens
concluída a criogénese gigantescas crianças de gelo
vulcões em erupção
chuva ininterrupta de bólides pungentes
o corredor é estreito como lâmina do presente
com inúmeras portas de mármore róseo trancadas
escondidos nas esquinas de marfim
os esqueletos de animais extintos
surpreendem as crianças e elas gritam e esquivam-se
à luz dos olhos de quartzo das estátuas plúmbeas
e estas derretem progressivamente diminuindo
de tamanho até se evaporarem por completo
outras crianças abrem seus gélidos pulmões
à aragem de morte devolvida por sucção
da outra margem – negro e trémulo círculo
ao fundo do corredor
estás sentado – lês – uma tulipa nasce-te
entre os dedos do pé esquerdo
magoada acende-se roxa para ti
continuas a ler para não confessares ter visto
ergues o império de cal no cérebro desprezando-a
e a tulipa explode
sabes-te culpado
soltas uma pequena gargalhada cruel
que engoles ávido sem transparecer
qualquer sentimento de culpa
ninguém te olha mas é como se estivesses
entre a multidão que te julga a cada suspiro
não lhe tocaste nem tão pouco a viste
sentiste-a entre os dedos do pé esquerdo
agora
entras na cave dos excessos onde escondes
o que mais de visível apresentas na tua conduta
experimentas um silêncio corrosivo
e tal silêncio é dor morrente
sentes fome
e só te lembras dum pólen que não provaste
tentas adivinhar-lhe o sabor
mas nenhuma boca adivinha o paladar do sémen
duma flor
nessa tua cave tens um frasco onde em menino
colocavas as corolas arrancadas às flores
com inocência eversiva
mas como foste gastando o que angariaste
nesses teus verdes anos
o frasco encontra-se agora vazio
já não regas os teus dias
com o pólen da tolerância unânime
e vives amedrontado
rodeado por paredes de vidro
SONOLÊNCIA
o alvoroço infernal governa a planície do medo
e seus herdeiros não degeneram
cumprem o ciclo
cada um por si neste jardim de espelhos
corroídos pelo ácido solto
entre breves olhares disparados
em ofensiva
bípedes esbracejam ritualmente
neste salão pavimentado de azulejos negros
em que a medida do vazio
é a medida do frio
enquanto decalque sobre o nada
os bípedes dançam
orbitam aturdidos em elipse
o que os segura é o medo
esse líquido que corre nas artérias da ignorância
a derradeira viagem inesperada rasga a noite
descansar é substituir angústias
conquistar velhos castelos em ruínas
abandonados na infância
o fôlego é maior na solidão
a moldura gira em torno
das mãos
e verte-se o líquido azul
sobre a pele – essa manta gelatinosa
que se veste à justa – sussurrando
a última palavra da frase ossificada
à beira dos lábios
¿que afecto o sono
prende?
fungos guerreiros do sono assemelham-se
a constelações
e o escárnio cru de seres irreconhecíveis
compõe a partitura que acompanha
o desmoronamento do corpo
até restar apenas lodo que lento se move
e respira dissonante
sob a égide das quatro paredes
do quarto escuro trancado
abrindo as mãos
o corpo entorpece
como paga do que se apaga
nos olhos cansados
e depois um leve sopro coincide
com a brusca
queda
do tampo
¿que confissão o sono
prende?
as mãos nuas carregam o trigo dourado
e o rosto não é acaso
é essência figurada – ardem as vestes
mas a feição é implacável e crua
o coração soluça na terra
vivo sol a sol sobre a cinza
respiro e morro em cada suspiro
as mãos ardem por dentro
mesmo antes de serem mergulhadas no fogo
olho a terra sinto o sangue
sorvo o elixir de tão invisível condição
soletro a palavra «terra»
T-E-R-R-A
Temendo Esconjuros Ressuscito Raízes Antigas
grato labor nos dá o labirinto
a colheita negra é nosso orgulho
deste chão ergueremos nossa face
uma voz sussurra:
«recebe o cordeiro de ouro em tua casa
cinge-o com a luz da lamparina acesa
e quando sentires que é carne à tua imagem
carrega-o nos braços até ao altar»
um muro branco se adivinha
ao se medir metro a metro a estampa
do que se vive pisando
e quando às mãos descem o pão o vinho
mastiga-se solenemente a renúncia à seara à vinha
meço com as mãos os frutos do sol
caio
a queda em flor
do que digo sobra-me a tesoura
os dedos circundam o umbigo
é o tempo é a hora
...............u....................................s
...............e....................................t
...............b....................................e
...............r....................................n
...............a....................................s
...............t....................................v
...............obra...exposta...a....cobro
.................d.........................................................i
....................a...................................................c
.......................r..............................................r
.........................d.........................................e
...........................ombreia.a.asfixia..a..dois
................é..............................................................................p
.........o......n......d.......u.......l.......a
......................a.......................................n
..................d.............................................d
...............a....................................................e
.................v...............................................d
....................e..........................................i
If the unheard, unspoken
Word is unspoken, unheard;
Still is the unspoken word, the Word unheard,
The Word without a word, the Word within
The world and for the world;
And the light shone in darkness and
Against the Word the unstilled world still whirled
About the centre of the silent Word.”
T. S. Eliot
“olha em redor dos bosques as veredas destruídas
pela explosão devastadora das minas e ouve
as vozes límpidas morrerem no poema”
Al Berto
eu vi o terror
entranhado nos olhos que matam
silenciosamente
vi a carpa gigante cortar o muco
às postas
calculei por palavras
réplicas da cidade destruída
vi corvos em reunião
com etiquetas suicidas
nas garras
abriu-se uma fenda
no paraíso de betão
os culpados serão punidos
cada um a seu tempo
cabras com cornos de aço
perseguem agora o desertor
que executou as tarefas macabras
– a cidade dizimadaa eira ao abandono
regresso despedindo-me de tudo
quanto foi alegria lilás
as velhas portas apodrecem
como eu apodreço
a cada rotação da terra
foi-se tudo
o tempo róseo dum eixo
que hoje é cicatriz no queixo
carrego a carapaça de calcário
deste tempo
bebo desconfiado o delírio fecundo da noite
enquanto ouço o ziguezague oriental do zinco
dou por mim às avessas
os órgãos expostos
espio-me a mim próprio
¿brilhará a nobreza
do belíssimo fruto cínico
acariciado pelas egoístas mãos?
ou será o brilho a desonra
a fugacidade rediviva que cega
esbranquiçando os olhos polidos
a cada imagem que passa rente
com sua acidez?abro uma laranja rasgando com as unhas
a pele grossa
leio o texto humedecendo os lábios
com o sumo dos seus gomos violados
gostaria de sentir o mais pequeno remorso
ao beber o sangue deste fruto
ao ler os seus versos
secam as fontes
a alcateia à espreita
bocas tão bocas
os sons da garganta estragam palatos
morrem animaiseis que chegam os narizes de sangue azul
– as grades sujas de esterco
e sangue amarelado
¿quando vingar a cor do dia?
a rua
nua
a noite
noutra rua
o dia
se um som
se um mesmo som ouvisse
sem a voracidade mental
se fosse quem fosse a própria pessoa
escorregando no som
e se nesse mesmo som
eu ouvisse a ouvir-me fingindo silêncio
repetindo o som com os lábios feridos
a língua exausta
os dentes a corroerem-se progressivamente
se nesse mesmo som eu me ouvisse tanto
que me deixasse de ouvir
poderia gritar
– rasgando o véu desse limpo som –
a fórmula do novo silêncio
ao descer descalço a montanha
a alma do alcatrão surgiu-me disparando
seu olhar como bala obstinada
e outras também o fizeram no mesmo segundo
após o tiroteio negro
desenhei a face escavada do estranho eleito
entre muitos que agora habitam o corpo
e senti o corpo a seu corpo
outro corpo apartado do corpo legítimo
mas dentro – nada nem ninguém
se apodera do sangue
extraio o ácido da árvore dos soluços
na camisa uma nódoa de sangue fermenta
como dístico na amputação do sonho
antigos demónios tatuados no peito
são o único testemunho da catástrofe do inverno
relembrado com o incenso das manhãs de nevoeiro
sorvo a luz
a cabeça húmida de suor e perdido o bulício
encolho-me: esqueci-me dum nome
que me beijou junto à cama
esqueci-me das três sílabas
o nome da mulher vestida de lua
cito a perícia da plebe gemebunda sito no mundo
[as mãos cosem as tiras de carne uma a uma]
cito a frase que os pulmões golfam
a ventania oblíqua encolhe-me a cada momento
dedilho os ossos fictícios que arqueiam
debruço-me cansado sobre a terra frágil
que à meia-noite se alimenta de folhas de videira
e galhos secos que estalam como dedos nervososa pele queimada
o sol raia louco empobrecendo a luta
– não se vê a armação de metal –
o prazer é ilegítimo
o cardume silencia a lagoa
a rosa murcha no berço do vácuo
e num milímetro visual
olhando em frente
um abismo de decalque
sobre o esvoaçar de andorinhas
tíbio disparo sanguíneo
a trágica açucena ergue-se entre as patas
do quadrúpede unicórnio
[a enxada assina o declínio da abóbada cinábria]
e espreitando pela janela armadilhada
meço a força da água no horizonte
– esquecida a terra do elo semântico
as vicissitudes dum outro tempo
tornam-se estranhas à razão
um novo arco de cal e a epiderme retrai
parcimoniosamente
as linhas ósseas intersectam-se em movimento– assim vivo com os lábios negros de beijar à pressa
TRÊS DEDOS
a orla engessada
os pés criam musgo
na meia o brinquedo
a lua atinge o medo
SENHOR
quero três dedos a apontar a vitrine
mora lá a minha voz de criança
a retinir o passado
que as geladas mãos adultas amarrotam
FREAK
gaguejo sagrando sob influência solar
oriento as mãos para o gesto luciferino
KILL THE ROSE
eis que venho denunciar a rosa
queimando saliva
a memória em tornado
a genética dita a cadência dos enigmas
ADN
não quero acordar o peixe de fogo
que há muito habita o arco-íris do ódio
OFERENDAtreze virgens menstruadas
festejam com as luas
poças de sangue
rolas desordeiras
suam na opaca noite
ÁMEN
eis a vítima do ópio sagrado
mulher trasladada para o sepulcro
CAMA
as pernas estremecem
as coxas apertadas esfregam o sexo
os corpos olham-se
o corpo sobre o corpo
corpos
untos derretidos
FUSÃO
guelras para respirar entre lençóis
as orelhas mordidas por impulso carnívoro
ALVOROÇO
os ouvidos morrem
os corpos apagam-se com gemidos
ORGASMO
INVENTÁRIO PARA...UNHA
negra
OSSO
branco
ISCO
infalível
bando de abutres calculistas
herança de fundamentalistas
da terra à água
da boca ao ânus
estrume nos lábios podres
janela de hálito ogro
pesado mistério tão sério
como a gaivota comendo alcatrão
iluminação precoce do abléfara
eis a lição
do
PARATROVA DE ATRIÇÃO
AI DE MIM
disse
ou brinco
com os teus cabelos
queimaste-me
e eu rasguei-te a saia
a noite não te come
quando assim estás vestida
AI DE MIM
disseste
ou evaporas
sem deixares qualquer rasto
não passas dum espectro
então
não te escuto
escreve a tua presença no espelho
com os dedos suados
eu espero
AI DE NÓS
disse
ou disseste tu?
EXPIAÇÃOa cavalo cintilo ausente
saqueio fermento às musas
CULPADO
falo por sílabas de luz suja
a mão direita bate duas vezes
no peito
ABSOLVIDO
mantenho a pose surda
uma onda de sangue
resvala sobre o cérebro
digo o que está dito
quando muito não dizer
é imunizar a palavra
dizendo-a em silêncio absoluto
sem abrir a boca
SINAL DA CRUZ
perdoai querubins
a indecisão do ser menoreis a incumbência basilar
dum luto planeado
ONDE ESTÁ O CADÁVER?
anteontem a terra
sorveu-o desabrida
esguichando
sua linfa venenosa
instituído o sobral pontiagudo
o verso estaca
e a charrua indaga díspar
QUEM MORREU?
cadáver anónimo
a constar nos autos
cadáver anónimo deambulando
entre pesadelos húmidos
QUEM ÉS TU?
surdo
caminha na passadeira de sangue
até ao interruptor
OFFdemarco a tatuagem
interstício da linha agridoce
as línguas em euforia
AGORA
um olho de vidro
a doença
MAIS LOGO
o silvo de bronze a morrer
na garganta do irmão terráqueo
AMANHÃ
a cura descrita num papel amarrotado
receita milagrosa ilegível
os destroços mutilam a consciência
JAMAIS
assistiremos à cabal destruição do vírus
a palavra o gesto a paisagem o homem
tantos vírus ou apenas um
nenhum
[é este o vírus]CHÁ DE CINZAS
sobre o que sob o néon
sobreveio no escaldante serão
lamento o rodapé da charada
vinho a escorrer nas paredes caiadas
palma contra palma
PALMAS
o avejão baila na rua
com a cabeça na mão
baila bêbado
nem sequer sabe que não existe
[existe portanto]
agora grita assobia geme
STOP
a cicatriz em sangue
num lado da boca
as malvas guardadas
no outro lado da boca
o calor a brasa a chama
convido-vos a beber
o meu chá de cinzas
SILÊNCIOENTRELINHAS
(!)
verde
de cair
a boca
(...)
outra
margem
(...)
o leão
indisposto
como tapete
dormente
(...)
a sirene
soa
(...)
os lençóis
no chão
(...)
tarde
o arrepio
a tempo
(...)
a tábua
resinosa
intoxica
(...)
o suor
[água
com sal
mordente]
o licor
sufragado
do corpo(...)
o cérebro
alcooliza
o humor
(...)
o corpo
sonâmbulo
pisa
a passadeira
de flores
secas
(...)
a esquina
reluz
[ainda é
tempo]
a fome
aperta
os espelhos
movem-se
na sala(...)
o vício
da ferrugem
(...)
dor nos
membros
(...)
a poesia
(le)prosa
ensombra
o quarto
(...)
o cadeado
esquecido
entre dobras
de papel
a chave
desenhada
no crânio(...)
elo iludido
sem os
cem vocábulos
do fuzilamento
(...)
dança
a vespa
entre
as capas
(...)
jejuando
o ser
suicida-se
a mastigar
(...)
a floresta
dos sais
negros(...)
a sirene
soa
novamente
(...)
o vento
maligno
(...)
as bocas
denunciam
tudo
(...)
a valsa
de fogo
(...)
tudo escurece
ao contacto
(...)
a floresta
dos sais
negros
único refúgio
(...)
não tarda
o coração
enegrecer
por completo(?)
CUBICULUM
“Silos de prosélitos como fruta podre
que eu avisto da minha colina rachada pelo meio.
Desço, plano e pico
voraz,
é o meu farrapo de carne narrativa...”
Paulo da Costa Domingos
“Às vezes, entranhando-me num espelho, consigo dar
nele duas ou três braçadas sucessivas.”
Luís Miguel Navapersigo a alta onda serpenteada
finto as lâminas recordando Ícaro
enveredo pela espuma decantada
percorrendo toda a casa onde pícaro
objecto procuro enquanto isento
lutando contra paredes que invento
um sismo no corpo, fluido mosaico
esperando que um rosto boquiaberto
saia como vareja vil do estio arcaico
planando a flora do coração em aperto;
o corpo arde por dentro e treme por fora
espera o sopro criador cavalgando na hora
incrédulo peço morosamente a mão
a mão povoada por líquenes cinzentos
que sombrios desafiam o cogumelo são
cujo talo é pétreo pelo som dos ventos
mas oco e frígido e de sangue vazio
escondendo bem fundo o nó bravio
a mão pousada convida os insectos
o desleixo é seu eixo, doce morrer à sede
enquanto a água oculta ditongos secretos
o monstro torna-se escravo; e o sol? vede
como desperta a cor da inaugural mistura
de sonhos e límpido sangue que perdura
impunemente a cortesia para a inimizade
porque no lacre tudo provoca a erosão
e eu peço a pegajosa demora na assiduidade
o refluxo hábil entre o estômago e o coração
para que as imagens elegidas pelo tacto doentio
aflorem selectivamente nos sonhos à beira do rio
embraveço mirando o pescoço cuidado
temendo os cactos letais da face ingrata
foi porque falaste, ó tu com ar de danado
que vestes o luto e enrolas a luz na gravata
ó tu que és sola da noite e tampo do sol
não cantarás inocente no meu secreto atol
onde vislumbrar a estrela cinzelada
nesga de luz a caiar ou morder vocal?
onde achar o filho pródigo da alvorada
quando a memória inspira cuidado tal
que a álea entre o passado e o presente
torna-se casa incendiada pelo poente
os famigerados cadeados riem-se calados
o que sobra? réstia de sangue como lágrima
de monstro marinho para sonhos estereotipados
e o lado sangra o tu real, a cova após a esgrima
o tampo abeira-se em alucinações como simulacro
efígie sublimada sob a língua crua e o paladar acro
palatos confundidos com úmeros, o sono da criança
apressada para o célebre abismo célere e a corrente
enfreia a ânsia atrevida na sintomática esperança;
nascer aleijão com gomos capciosos, dócil doente
é ser laranja azeda num pomar ominado mas vivo
ou vã elite causticando num cerco familiar estivo
terreando sabendo do nó brusco que padece ao frio
longe do ventre tem o vento o ar a água morta
terreando sem que a maré suba com sábio estrio
sem que a longa palma pronuncie a sentença absorta
de modo subtil mas com a força bárbara permitida
exalando um olor lauto no hexágono cerrado da vida
jorra a fonte e eu, só, em plácida noite refugiado
guardo minúsculas pedras frias para um colar
algo para alguém ressuscitar ao manejar o cajado
alguém ausente, perdido no meu corpo a chorar;
o abrigo é único regozijo fiel à traição viável
e nesse antro, o nada sentido é o tudo inefável
trauteio a culpa na viela arrojada em pleno olhar
minha fracção vítrea resplandece inquieta e voraz
húmida sobre a imagem, atenta no insólito vibrar;
a luz sob inflexões aquosas e depois o soar mor traz
sílabas cheias intactas por desbravar e enaltecer
até ao clarão negro até ao branco atónito até morrer
entre rostos a distância do enigma em pensamento
a corola ausente e um punhado de pólen surripiado
galhos em vez de dedos e uma fogueira arde, o vento
ousa desvirginar os negros cabelos da mulher ao lado
o paul escuro seca perante as montanhas do alvor
até cobiçar a água dos vis olhos improfícuos da dor
a brasa acesa do infortúnio, intermitente, o sono
ambígua vontade sobre o côncavo lacre inseminado
longa vai a tarde nesta praia de areia sem patrono
onde recito a exígua culpa soletrando-a queimado
os lábios a arder e a estrela comovendo-se solidária
– o probo queimor torna cativa a condecorada área
ardor no cubículo amestrado em tempo de guerra
sei do campo de flores regado pelo fluxo enjeitado
traduzo-o em movimento lendo a boca de terra
protegida por árvores guerreiras cumprindo o voto;
por não caber na forma do outro que sempre analiso
não confio no nome escrito na doce neve que piso
o nome sujo por simpatia esbelta, erro do costume
platinar o medo amolecendo a ardósia do pericárdio
para ter sede no vale irrigado pelo osmótico lume
da paixão de dois gumes aquando o beijo precário
e o nicho ofegante da enigmática sombra bendita
não supera o vulto sublime que sofrendo crepita
uma concisa nota menor no dorso e escuto
o imaculado ditongo onde a obnóxia lava
assume a contrapartida inibitória do arguto
manancial de retrocessos nos quais a clava
perpassa domínios intrínsecos à abjecta falácia
minguada no sorver aleivoso, na dual eficácia
deteriorando o difuso tapete, o chão já sublimado
a súplica racha quando se dá a desova de lampreias
e a mórbida elipse da denúncia aceite como achado
arrecada o livre suco desamparado de efémeras veias;
o semblante serena com o exotismo megalomaníaco
enquanto se limpa parte do cinismo hipocondríaco
meditabundo na dor, envolto na cíclica nuvem
claustro perene intacto e nem sequer uma fracção
de incenso ardida remando contra o que se tem
proferindo à terra o monólogo da reivindicação
– rei sendo escravo de si próprio quando chora
homem de não saber a palavra que só ancora
um naco da árvore, sóbria dissolução da azáfama
ravina escarpada, serosa do eminente arquitrave
e largando de antemão as redes na água da chama
uno as mãos imbuídas de nácar trazido por uma ave
permitindo o silencioso denegrir da grafite herdada
e beijo, prudentemente, a extensa fronte inflamada
outra foz, labaredas no vazio sepulcral
cinzas confundem o autêntico paladar
nem prato nem talher, o axioma do mal
apenas um púlpito antecedendo o cessar
a reunião de elementos como certo mando
dum líder só, entre muitos de si, chamando
iões amargos na boca alugada, o de dentro brada
não se acende, a sumptuosa amada não se evapora
e eu, bicho entre bichos, aflito por ser espúrio nada
nego a própria negação e a locução é grito no agora:
a única realidade neste desperdício de terra e fantasia
o único pão que corta como espada ao olhar a fasquia
ouvi dizer que a fera soltou-se e não encontra o dono
derramado nos lençóis tento falecer de novo na noite
a fera espera no outro lado para atacar-me no sono
dançando sedutora ao som metálico do aéreo açoite
– o pautado corpo fulgura num assaz faiscar errático
longe da fera comum que abalroa o mundo prático
enfrento ansioso a lua manchada de urina celestial
sintonizo a maré nocturna, cometas como peixes
ajoelho-me e relembro a água salgada e a areia dual
arqueio-me abraçando o cadáver suspenso – os feixes
de energia no mínimo e a secura invade a garganta –
o negror ostenta a luz aspergida que dócil me levanta
rara, a erva verde na cal da boca e tu a um passo
não falo de amor, falo de corpos em combustão
das cartas amo mais as cinzas e o terno embaraço
ridículos são os néscios madrugadores da paixão;
prefiro a alvorada como temporário leito de morte
e a fusão de lágrimas como ouro matinal da cortecaindo na imensidão dos múltiplos ícones flagrantes
traio-me impaciente observando a compulsividade
dos elementos cúmplices na entropia, mui cintilantes
– convexos adversos desconexos – presos à afinidade
o vácuo como premissa da frenética criatura vassala
alfa e ómega no cerne do lume, ínfimo clarão da falater o túmulo como cobertor, a vanglória de poder
cheirar os mortos, dádiva ao conhecê-los na esculca
após a viragem ou conversão química, puro morrer;
o beijo fica deixando-se ir, antro respiratório da culpa
dissolvida no rubro charco das tácitas diatomáceas
– tudo escrito na tábua, coeso turbilhão de hemáceas
necessito de chuva nestas palavras e o céu azul
nostalgia indigente, voz no vazio vácuo musical
era pressuposto entrar o coro – frenesim do paul –
acompanhado pela cavernosa guitarra do vitral;
os amantes suicidam-se e cai lento o áqueo pano
escusados são os berbicachos ao redor do engano
uivo à claridade duma fictícia lua ainda alucinada
não espero nada em troca de silvos desenxabidos
clamo e nada mais a morrer nos braços da enseada
agonizo perante o arder do enxofre de cabelos tidos
como fósforos a acender na fiel madrugada algente
– gaguejar perante a estátua falante é ser inclemente
prevejo a tertúlia cerebral e trincolejo sarcasticamente
medusas dançam à volta e largo as rédeas já cobras
espreito pelo orifício esgravatado quando só, doente
não arrecado estilhaços de saliva nem ásperas sobras
escondo-me aquando os bocejos, almofado os ossos
e faço parémias crivando punhados de terra de Cnossos
o cão e a pulga de O’Neill acordam-me, o orvalho pende
colchão frio: ardósia da noite de improvisações canhestras
arrepio-me por não saber os truques do desabrido duende
e atordoado pelo assobio da flecha enxoto moscas destras;
pecados geram o tumulto que forma o diamante a entrever
à janela da palavra-flor escrita no ventre luzidio da mulher
pressinto a gula subindo a escada até ao sótão dos gritos
rei sem reino num mundo limitado mas infinito colossal
os juízos enferrujados recordam o sangue insidioso de mitos
a loucura eremita de novecentos, a mestria a fugir do sal;
debruço-me e cheiro o pó até se tornar licor para o beber
estendo o sorriso e recito antiquados sonetos ao entardecer
vagueio com o purpúreo manto apaziguado pelo uno coalho
a poesia povoa a pele como escama despertando os répteis
danço asfixiado no antro cheirando o que morre no soalho;
durante o sono os avisos dos profetas servidos por azeméis
estremeço só de saber a errância maligna da vã carnificina
– talvez subestime o olor das noites com lua purpurina
ergo a taça sabendo que dela não beberei e lamento
o valor das balas fundidas, sangue metálico, ardor
de vítimas por todo o mundo a curar num tempo
purpúreo tempo das imaculadas feridas sem dor;
receando a ruína da alçada repito as palavras ardidas
crendo na sombra omnipresente de peles sofridas
em surdina devolvo o arrebatado divagar
a lembrança como precoce estímulo tardio
mães choram no cais com derradeiro vagar
e os gestos do poeta no crepúsculo sombrio
salgam as lágrimas da rota com flores estiadas
– álgido é o leito amargurado de glosas recitadas
vou deixar gerânios sobre a mesa, depor a casta mão
que afaga estes versos banidos do solo, estes versos
manchados de fúria desavinda tão real como a canção
que chega aos ouvidos de alguém a errar nos reversos
da nervura folicular colhida a frio no átrio da alegoria
vigiado pelo guardião que vive a noite temendo o dia




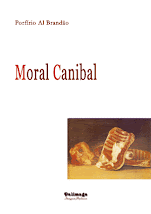


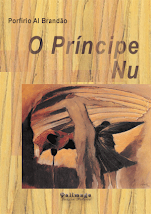
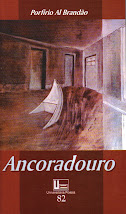

Sem comentários:
Enviar um comentário